eça de queiroz — carta de paris (XII)
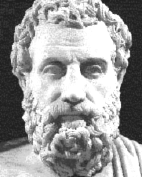
XII
O senhor Barthou
— A Antígona de Sófocles — "Les Rois" de Jules Lemaître
Houve em França subitamente uma queda, ou antes, um desconjuntamento de ministério. Os ministros, que eram uns de substância radical e outros de substância conservadora, estavam mal grudados. O calor das primeiras discussões, na câmara nova, descolou estes pedaços heterogéneos de poder executivo. Imediatamente, porém, se manufacturou outro Governo. E a única feição desta crise, digna de ficar nas crónicas, foi o ter aparecido de repente, e por motivo dela, um homem de Plutarco.
Este homem é o Sr. Barthou.
É necessário reter este nome – Banhou – porque ele representa um justo. A Bíblia diria um «vaso de eleição»; mas esta imagem é arriscada e dá lugar a equívocos lamentáveis, quando se trata de homens e de coisas parlamentares.
Quem é o Sr. Banhou?
Um político e, portanto, um ambicioso. Além disso, um inteligente e ardente.
E que fez o Sr. Banhou?
O Sr. Banhou realizou um feito sem precedentes na história constitucional: convidado, nesta nova organização de ministério, para secretário de Estado das Colónias, recusou.
E recusou por um motivo que o eleva justamente a essas alturas morais em que Plutarco se começa a entusiasmar. O Sr. Banhou recusou, porque (segundo disse) «não estava habilitado, nem pelos seus estudos anteriores, nem pela experiência, a tomar conta dessas funções». Conhecem alguma resolução mais heróica? Eu não conheço. Um político de profissão, um ambicioso que se nega a entrar num ministério por não se considerar competente, nem teórica, nem experimentalmente, para gerir um certo ramo da administração – é verdadeiramente prodigioso! E nós todos os que nascemos sob o regime das canas constitucionais não podíamos realmente supor que existisse algures, nesta Europa política e parlamentar, um bacharel que sinceramente se julgasse inapto para governar, do fundo do seu gabinete, fumando a cigarette do poder, as colónias do seu país!
No antigo regímen de direito divino, frequentemente se viu ser chamado um cabeleireiro para salvar as finanças do reino. Mas nesses tempos deliciosos tudo dependia do bel-prazer de el-rei. As vezes o cabeleireiro, mostrando os seus pentes, confessava aterrado a sua incompetência. El-rei, porém, mandava – e o cabeleireiro, com as mãos ainda gordurentas das pomadas, tomava conta do tesouro real. Quando Filipe II de Espanha deu ao duque de Medina Sidónia o comando da Grande Armada, que partia a conquistar a Inglaterra – o pobre duque escreveu ao seu rei e senhor uma cana desolada, em que lhe dizia que estava velho e cheio de achaques, que enjoava horrivelmente no mar e que não sabia comandar uma frota!... Filipe II franziu o sobrolho e ordenou ao duque que embarcasse. O desgraçado lá embarcou, já enjoado – e todos sabem a boa conta que ele deu da Grande Armada. Para evitar esta deplorável confusão das profissões – se fez a revolução de 89. E dela surgiu então essa classe de políticos, possuidores de aptidões universais e de ciência universal. Todo aquele que, por gosto ou necessidade, se incorporava nessa classe, parecia receber logo do Espírito Santo o dom de tudo conhecer e de tudo poder. O médico largava as suas lancetas e ia, absolutamente seguro da própria capacidade, confeccionar códigos. O folhetinista arrojava a pena, empolgava a espada, e lá partia, com uma soberba confiança, para o Ministério da Guerra a reorganizar os exércitos. Nenhum jamais hesitara. E tal que duvidaria, por causa da sua inexperiência, aceitar a administração de uma horta de couves – estava pronto, soberbamente pronto, a dirigir um Ministério da Agricultura e Comércio.
Esta confiança dos políticos em si próprios terminava por se comunicar ao público. E todos nós, desde que Fulano era eleito deputado, ficávamos certos de que, tocado de uma luz divina, da língua de fogo, como os apóstolos, ele poderia, se não falar todos os idiomas, pelo menos dirigir, sob todas as formas, os grandes serviços públicos da sua terra, e indiferentemente, segundo as circunstâncias, salvar as finanças ou comandar as frotas.
A estranha confissão do Sr. Banhou vem desmanchar esta confortável confiança. O quê! Há pois políticos que não conhecem, nem por estudos anteriores, nem por experiência adquirida, os negócios coloniais? Diabo!, como tem sido então o mundo, até agora, governado? Será possível que tenhamos tido por ministros e governantes outros Barthous que, ao contrário deste, cuidadosamente esconderam a sua incompetência?
Não sei. Mas certamente a declaração do Sr. Banhou, singularmente honrosa para ele, é altamente nociva para a sua classe. Cria uma larga suspeita entre nós outros, os governados.
Se há um político a quem o Espírito Santo não concedeu o dom do universal saber – é bem possível que outros muitos tenham encontrado da pane do Espírito Santo a mesma resistência em lhes outorgar o dom divino. E já não podemos ver um bacharel subindo de cabeça alta e luneta faiscante os clássicos degraus do poder, sem murmurar dentro de nós mesmos, olhando de revés o galhardo moço na sua ascensão: Diabo!, será este maganão um Banhou – que se calou?»
Desinteressante pelo lado da política, Paris está, ao que parece, interessante pelo lado dos teatros. Para começar, temos Sófocles, no Teatro Francês, com a sua velha Antígona. Invejável destino o deste Sófocles! Há já mais de dois mil e trezentos anos que ele gozou o seu primeiro «sucesso», em Atenas, no dia em que Címon derrotava os Persas nas margens do Eurímedo – e aí o temos ainda, depois destes vinte e três séculos, fazendo derramar em Paris as mesmas lágrimas que fazia correr pelos belos olhos das atenienses, quando Antígona, cobrindo a face com o véu, marchava para a morte. Quantos impérios, quantas raças, quantas civilizações têm passado? Quando ele em Colona, em casa de seu pai, que era um simples fabricante de armas, desenrolava verso a verso, nas tabuinhas enceradas, à sombra de alguma oliveira, os queixumes de Édipo, Paris não era mais que uma escura floresta, onde de noite uivavam os lobos, vindo beber às lagoas. E no sítio dessa vetusta mata, convertida ela, por seu turno, numa Atenas, infinitamente mais complicada, todas as noites milhares de vozes trémulas de emoção continuam a gritar: «Bravo, Sófocles! E decerto devotos do seu génio iriam, como os soldados de Lisandro, coroar de flores o seu túmulo, se ainda fosse possível saber onde se encontra o seu túmulo. Dizem que era na Decélia – e que, quando já não existia lá o túmulo, nem mesmo já havia Decélia, ainda os pastores notavam que constantemente ali zumbiam abelhas em grandes enxames dourados. E que as abelhas, desde séculos, eram atraídas para aquela colina pela doçura e pelo aroma que exalavam os restos de Sófocles.
Esta Antígona que agora se representa no Teatro Francês, foi para Sófocles a peça mais rendosa – porque valeu ao poeta ser nomeado general ou estratego, como os Gregos diziam, numa expedição a Samos. Singulares direitos de autor! E singular povo que recompensava a beleza de uma tragédia como o comando de um esquadrão! Mas servir a cidade, ganhar a Atenas uma batalha, era, nesses tempos de civismo heróico, a mais esplêndida, a mais nobre das tarefas humanas – e não se podia dar melhor recompensa a um grande poeta do que fornecer-lhe a possibilidade de se tornar um grande cidadão. De resto, Sófocles era soldado – já se batera em Salamina, onde também combatera o velho Ésquilo.
Assim os dois trágicos concorreram pela «pena e pela espada» a assegurar o predomínio da civilização helénica e da civilização ocidental.
E não foi só como combatente que Sófocles cooperou em Salamina – mas como poeta: porque pela sua beleza e pelo seu génio lírico foi escolhido para corifeu dos coros de mancebos, que, com cantos e danças, celebraram durante três dias essa magnífica vitória, que nos salvou a todos nós, homens de raça ariana, de sermos ainda hoje orientais e talvez persas!
Pois a Antígona continua a ser rendosa. Nem Sófocles nem os seus herdeiros aproveitam dos cinco ou seis mil francos que ela lança todas as noites ao cofre do Teatro Francês. Mas não é menos rendoso para a sua glória imortal que, ao fim de vinte e três séculos, este dramaturgo de Atenas continue a enriquecer os outros.
Deixemos porém a Antígona e Sófocles – porque, das peças representadas em Paris, a que mais interessará decerto no Brasil é Os Reis (Les Rois), de Jules Lemaitre.
Este drama, tão esperado, tão louvado, começa com efeito por uma história da revolução do Brasil. Exactamente como lhes conto! Por uma história da revolução do Brasil – da outra, da antiga, da que derrubou o império.
Quando o pano se levanta, vemos diante de nós a sala do trono do palácio real da Alfania. A Alfania é um grande reino, uma monarquia absoluta, com trinta e oito milhões de vassalos – mas esta sala não apresenta mais luxo ou majestade que a da câmara municipal de uma vila democrática. A primeira impressão é que na Alfania as artes decorativas e sumptuárias estão em deplorável decadência – mas dentro em breve se descobre que as colgaduras de seda e brocado que deviam revestir esta sala real foram arrancadas das paredes para se fazerem com elas as toilettes de Madame Sara Bemhardt, que é a princesa real da Alfania.
Pela porta nobre desta sala desguarnecida entram dois senhores de casaca e calção de corte, com grã-cruzes que me pareceram ser da Ordem da Conceição. Um, o mais gordo, é o bibliotecário do rei de Alfania, Cristiano XVI. O outro, um moço louro e alegre, é o ministro dos Estados Unidos do Brasil. Exactamente como lhes conto, ministro do Brasil –que aqui na peça e na Alfania tem o nome de «República das Cordilheiras». O ministro, esse, dá pelo nome cavalheiresco e espanholesco de Alvarez! Muito jovialmente e não sem malícia, este ministro Alvarez começa a contar ao bibliotecário (de quem foi condiscípulo no Colégio Stanislas em Paris) as suas atribulações diplomáticas.
Há dois meses que ele foi nomeado ministro para Alfania, há dois meses que reside na corte de Alfania, e ainda não conseguiu que o velho rei Cristiano reconhecesse a República do Brasil! Bem compreensível, de resto, esta resistência de Cristiano XVI, que tem oitenta anos, é um autocrata de direito divino, vive no santo horror de todo o liberalismo e de toda a democracia, e não pode compreender que o povo da «Cordilheira» expulsasse um velho imperador tão magnânimo e tão paternal.
E todavia (como Alvarez explica, parte para o bibliotecário e parte para o público) nunca houvera no mundo uma revolução republicana mais repassada de bons sentimentos monárquicos.
O povo da «Cordilheira» não detestava, antes amava, o seu imperador. Mas quê! Esse imperador nunca residia no seu império – e constantemente percorria a Europa, cercado de eruditos, robustecendo a sua ciência das línguas mortas e lendo manuscritos no seio das academias. Ora um povo que não se ocupa de filologia –não gosta de ser governado por um filólogo. Sobretudo por um filólogo que parece preferir ao seu trono o seu banco do Instituto de França. O trono estava sempre vazio, a cobrir-se de pó – e o imperador sempre em França, no Instituto, a esmiuçar raízes hebraicas. Além disso aquele império da «Cordilheira» desmachava a harmonia republicana da América do Sul. O quê!, todos os países em redor com uma república – e só a «Cordilheira» sobrecarregada com uma monarquia e uma corte! Era discordante.
De sorte que o povo decidiu despedir o seu imperador. Mas este acto de bom senso político fora feito com toda a delicadeza, todo o respeito, toda a bonomia. A república surgiu uma madrugada serenamente e naturalmente, como o Sol. O Governo Provisório fretou logo um vapor (um vapor muito confortável, acrescenta Alvarez), meteu dentro o seu velho imperador com todas as cautelas, saudou e mandou largar para a Europa. Nem uma palavra, nem um gesto que revelassem azedume ou cólera nesta separação.
Pelo contrário! O povo tinha os olhos enevoados de lágrimas – o imperador também. E durante muito tempo um na praia, outro no convés do vapor confortável se acenaram em um longo, eterno adeus, ambos cheios de simpatia e cheios de saudade. E realmente não havia motivo para que o velho Cristiano XVI se recusasse a reconhecer uma república, uma república tão cortês, tão amável – e no fundo tão monárquica!
Assim narra o ministro Alvarez, no primeiro acto d'Os Reis, esta risonha revolução que fez o ministro. E com que ironia a conta! Não dou muito pela fidelidade deste funcionário. Mas apenas ele terminara a história da tão bela aventura em que se lançou o seu país – entra toda a corte da Alfania.
É que estamos num considerável momento histórico. O velho rei da Alfania vai abdicar. Não é só por velhice, por doença, por fadiga daquela coroa secular. É que já não compreende o seu povo – e receia que o seu povo já não compreenda o seu rei. Até aí ele fora simplesmente o pastor muito solícito de um rebanho muito manso. Agora, porém, sob o seu cajado, via, não carneiros, mas homens. E esta nova ciência de governar homens, e não carneiros, ele, rei de outras eras, não a possuía. Por isso passa o cajado a seu filho, o príncipe Hermann. Esse não só é novo pelo anos –mas é novo pelas ideias. Príncipe de direito divino, foi todavia educado noutros tempos, e por outros livros – e conhece os direitos humanos. Todas essas liberdades estranhas que o povo da Alfania reclama (liberdade de voto, de imprensa, de associação, de reunião, etc.) e que ao velho Cristiano parecem horrendos atentados contra a sua autoridade real são para este bom príncipe Hermann aspirações legítimas, que deverão ser satisfeitas com uma generosidade prudente. De sorte que, com este novo povo da Alfania, tão diferente do velho rebanho gótico, e já hoje cheio de teorias, e meio revolucionado, melhor se entenderá o príncipe novo do que o rei velho – e Cristiano XVI abdica.
Lá está ele na sua poltrona real, todo vestido de verde, com a sua branca cabeça pendida ao peso dos pressentimentos tristes – enquanto o chanceler do reino lê o rescrito que entrega a regência do reino da Alfania ao democrático e humanitário Hermann. Este pobre príncipe também não parece feliz, tomado já pelo terror das suas responsabilidades. Quem resplandece é a princesa, Madame Sara Bernhardt, uma arquiduquesa do seco e puro tipo feudal, sôfrega de majestade e poder. Mas, enfim, eis Hermann regente da Alfania, recebendo as homenagens dos grandes dignitários. E sabem qual é o seu primeiro acto de regente? O reconhecimento da República do Brasil! Exactamente como lhes conto. Quando o ministro do Brasil, por seu turno, o vai saudar e render-lhe preito, o príncipe Hermann diz com ar grave e decidido de quem faz a sua primeira afirmação democrática:
– Senhor Alvarez, apresente-me amanhã as suas credenciais!
Nem mais, nem menos. Está reconhecido o novo Brasil pelo novo rei da Alfania. O pobre Cristiano suspira – e Alvarez parece bem contente.
Obtido este esplêndido resultado, nada mais nos resta senão sair do teatro e da Alfania, esfregando as mãos. Mas não! Devemos ficar para ver no segundo acto uma situação verdadeiramente bela, de um patético novo, e mais comovente e profundo que os que resultam dos conflitos da paixão. E aqui uma verdadeira tragédia intelectual.
O pobre príncipe Hermann, mais que democrata, realmente socialista, já deu ao seu povo todas as liberdades políticas, e até um parlamento e uma carta constitucional.
O velho reino da Alfania está todo transformado e arranjado à moderna, no melhor estilo Luís Filipe. O primeiro-ministro é um jacobino que, como ele mesmo confessa, passou a sua mocidade a fazer revoltas contra o antigo Cristiano, e a ser preso como cabecilha irreconciliável. Mas o povo, todavia, permanece descontente. Há uma crise industrial em toda a Alfania, uma intensa miséria trazida pelas greves, e os operários da capital, obedecendo à velha ilusão de que o exercício de mais direitos políticos lhes trará mais salários, preparam uma tremenda manifestação nas ruas para reclamar o sufrágio universal. O príncipe Hermann permite alegremente a manifestação – porque (como ele diz) se o sufrágio universal não cura os males do proletariado, ao menos serve-lhe de consolação, põe-lhe na alma uma esperança; e o proletário sofre tanto, e está sob o peso de tão fatais injustiças, que por todos os moldes deve ser consolado e atendido nas suas exigências reais ou fictícias. O que o bom Hermann quereria (como ele também declara) era distribuir pelos pobres o supérfluo dos ricos – mas como essa liquidação social não é possível imediatamente, e como se não pode dar ao proletário todo o pão que ele necessita, dê-se-lhe ao menos todo o voto que ele reclame. E a manifestação dos vinte mil operários já vem na rua, imensa e clamorosa.
No palácio reina o terror.
Esses milhares de operários, soltos na capital, permanecerão ordeiros e disciplinados? Os próprios ministros, antigos jacobinos, duvidam – tanto mais quanto a manifestação é capitaneada por anarquistas que estavam presos, e a quem Hermann, apenas regente, logo amnistiou com entusiasmo. E com efeito não tardam as más notícias. Os manifestantes arvoraram a bandeira negra. Já aqui e além houve conflitos – e as tropas foram apedrejadas. E eis que, agora, a enorme massa popular avança sobre o palácio! Mas Hermann sorri tranquilamente. Que pode recear, ele, que ama tão ardente-mente os pobres, e que é na verdade o rei dos pobres? O povo avança sobre o palácio? Pois que se escancarem, bem largas, todas as grades dos jardins, que o povo entre, porque o seu rei ali está e lhe estende com amor os braços. E ele mesmo abre as janelas – por onde penetra um longo, sombrio e suspeito tumulto de brados.
Mas eis um ajudante-de-campo anunciando que a turba está em plena revolta, assalta os postos da guarda e começa a saquear as lojas. Que espanto para o pobre Hermann! O quê! Pois o povo não compreende que ele o ama, e que trabalha para a sua felicidade, e que vai ele próprio, socialista coroado, fazer lentamente, e de alto, a revolução social?
Não, o povo não parece compreender, porque rompeu justamente a apedrejar as janelas do palácio. Já uma pedra ia matando o principezinho real, uma pobre criança doente, nos braços da sua governanta. Hermann, aflito, corre a uma varanda, para gritar ao povo toda a verdade. Cai sobre ele uma saraivada de calhaus. E não são já somente calhaus – são tiros. Outro ajudante, esgazeado, corre a contar que a guarda real está sendo desarmada pelo povo. E a revolução! Que fazer? Madame Sara Bernhardt (que é aqui magnífica) arrasta-se aos pés de Hermann, suplicando-lhe que salve a coroa, que salve o reino! Ainda é tempo! As tropas, absolutamente fiéis, estão nas ruas, só esperam uma ordem para carregar, varrer a populaça!... Mas Hermann hesita, lívido numa agonia, gritando somente: «Oh!, os brutos, os brutos, que não compreendem!
Outro ajudante. A revolução triunfa! Vai acabar o reino secular da Alfania! Já o povo quebra as portas do palácio. Em pouco aquela rica cidade será saqueada por uma plebe feroz. E o general governador manda intimar o rei a que lhe diga claramente o que deve fazer, como general! Hermann, numa voz de moribundo, murmura:
– O seu dever de soldado!
E cai numa cadeira, aniquilado. Fora há um lento rufar de tambores. E o primeiro e lúgubre aviso para que a multidão disperse, antes que sobre ela rompa o fogo. Hermann ainda se precipita à janela, grita: «Não! Não!» É tarde. Uma descarga, outra descarga... E logo após o horrendo clamor dos gritos. São os que morrem!
Um silêncio sinistro. Está salva a ordem, com ela a coroa. Um oficial aparece, todo pálido, com o uniforme em desalinho. A princesa, que caiu de bruços para cima de uma mesa, ergue lentamente a face, pergunta por entre lágrimas:
– Mulheres mortas?
O oficial murmurou:
– Muitas.
– Criancinhas?
– Também...
Hermann, esse, ficou como petrificado, sem voz, sem vida, com os olhos cravados no tapete. É que está vendo nele, cobertos de sangue, os pedaços do seu belo sonho humanitário, que se despedaçou. Ele é o primeiro rei democrata da Alfania; e eis que, por muito amar o povo e o encher de grandes esperanças e o lançar largamente no caminho de todas as satisfações sociais, se vê forçado pela lógica terrível das coisas a erguer-se diante do seu povo como um repressor violento, e a metralhar o seu povo – o que nunca sucedera na velha Alfania quando o povo era um rebanho pastando mansamente a sua ração de erva, sob o cajado dos seus velhos reis. O seu socialismo naufragara em sangue.
A cena é verdadeiramente bela – e pela reaparição da fatalidade, esse grande factor de toda a tragédia, mas uma fatalidade nova, tirada das leis sociais, dá uma tão forte emoção como a podem dar Ésquilo ou Sófocles. Depois o drama acaba mediocremente num desastre de amor, que é ao mesmo tempo vulgar e complicado e cheio de ironia. E não voltamos a ver Alvarez.
Ligeiro e jovial, como me pareceu, estou receando que ele se dedicasse a galantear com as damas gentis da corte da Alfania, em lugar de compor e mandar ao seu governo um relatório instrutivo mostrando, pelo exemplo alfanico, o perigo que se corre em destruir, por amor das teorias, um regime cheio de paz, de ordem, de prosperidade e de crédito, para lançar a nação num caminho incerto e escuro onde ela vai cambaleando através do descrédito, da desordem, da ruína e da guerra.
Mas Alvarez não é homem para compreender as lições da história.
Eça de Queiroz
A découvrir aussi
- eça de queiroz — cartas de paris (V)
- eça de queiroz — cartas de paris (VII)
- eça de queiroz — carta de paris (XV)
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 839 autres membres
